
Um dos rumores de “casting” mais engraçados que circulam na Internet (e se está na Internet tem de ser verdade) é aquele que conta que há 12 anos atrás o actor Tom Cruise esteve quase, quase a ser escolhido para interpretar o papel do “Homem de Ferro”.
Dizem as más línguas que a única coisa que impediu a contratação de Cruise (que a Marvel queria a todo o custo) foi uma simples questão de vaidade: para aceitar interpretar o Homem de Ferro, Cruise exigia uma coisa impensável: que durante o filme inteiro a sua cara estivesse sempre visível para o público (o que significava que a icónica máscara do “Homem de Ferro” teria que ser transparente para acomodar esta pretensão). Abalados e chocados com esta exigência os produtores do filme terão desistido de Tom Cruise.
Reza a lenda que o realizador do filme Jon Favreau, sugeriu então o nome do polémico Robert Downey Jr. para o papel ao que Marvel terá respondido: “Nunca! Jamais! Sob nenhuma circunstância estamos preparados para contratá-lo, por nenhum preço!”
Paciente, Favreau convenceu a Marvel a considerar Downey Jr. prometendo que ele faria pela sua saga o que Johnny Depp tinha feito por Piratas das Caraíbas: dar ao personagem uma energia e uma densidade que só poderia vir de um actor marginal forjado no cinema Indie. Downey Jr. fez um teste de casting, e a partir daí a Marvel já não pode considerar outros actores. Estava escolhido Tony Stark AKA o Homem de Ferro.
Nunca saberemos ao certo o que há de verdade nesta história (que os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel adoram), mas facto comprovado é que em Abril de 2007 o jornal “USA Today” criticava assim a escolha polémica do então altamente polémico actor para o papel de Tony Stark:
“Muito dificilmente um actor como Robert Downey Jr. seria uma escolha óbvia para interpretar um icónico combatente do crime.”
11 anos, 22 filmes, 20.3 billiões de dólares, mais tarde é difícil uma pessoa acreditar que alguém alguma vez escreveu uma coisa destas (sobre aquela que é provavelmente a escolha de casting mais inspirada de sempre). Mas a verdade é que na altura em que foi escolhido para interpretar o Homem de Ferro, o hoje em dia (quase) universalmente amado e incontestado RDJ era um actor com quem ninguém queria trabalhar, escolhido para interpretar o papel de um super-herói da Marvel que quase ninguém conhecia, num filme que muito pouca gente tinha interesse em ver.

Durante muitos anos, esta era a imagem que Hollywood (e o mundo) tinha de Robert Downey Jr: a do cadastro policial (foto tirada na primavera de 2001, quando ele foi preso por posse de drogas).
Toda a sua vida o grande talento natural para a representação de Downey JR. andou sempre de mãos dadas com a sua tendência para auto-destruição. O mesmo Actor que nos anos 80 a imprensa sentenciava que estava “destinado a ser o melhor actor da sua geração”, em 1996 aparecia nas capas dos jornais como “mais um viciado em drogas de Hollywood“. Em 2001 batia no fundo preso pela terceira vez o outrora nomeado a um Óscar da Academia por interpretar um inesquecível “Chaplin” ganhava oito centavos de dólar por hora esfregando tabuleiros de pizza. O “melhor actor de sua geração” era agora o prisioneiro nr. P50522. “Nunca contarei as piores coisas que me aconteceram na prisão” contará mais tarde RDJ.
É um facto que Hollywood adora as histórias de declínio e superação, mas nenhuma outra supera a história da vida real do actor da saga ‘Homem de Ferro’, ela própria digna de um filme da Disney.
Reza a lenda que no Dia da Independência de 2003, Downey Jr. parou num Burger King numa estrada da costa do Pacífico e enquanto comia um hambúrguer teve uma epifania. Decidiu que já chegava e atirou todas as suas drogas ao mar. Conta o próprio que o Pilates, a Filosofia Oriental, a Meditação, o Kung-fu canalizaram sua síndrome de abstinência, e a terapia e o amor da sua mulher Susan Downey ajudaram-no a ultrapassar o vício que ele descreveu como “ter uma caçadeira enfiada na boca e adorar o sabor do óleo que escorre da arma”.
Downey Jr. que aos 6 anos fumava o seu primeiro charro (oferecido pelo seu pai), aos 28 anos recebia a sua primeira nomeação para um Óscar e aos 31 acordava na prisão numa poça do seu próprio sangue é aos 54 anos um dos actores mais bem pagos da História do cinema. (Recebeu meio milhão de euros por Homem de Ferro, com um contrato que abrangia duas possíveis sequências, com as quais acabou por ganhar 9 milhões de euros e 28 milhões de euros respectivamente. Entre 2013 e 2015 ocupou o primeiro lugar na lista da revista Forbes, mantendo-se nas primeiras posições nos últimos anos. E após receber 75 milhões de dólares pelo recente Vingadores: Endgame, segundo cálculos de jornais como o “The Guardian”, provavelmente voltará a encabeçar a lista de 2019).
Apesar de hoje em dia a Marvel jurar a pés juntos que escolheu para o seu primeiro filme o personagem do Homem de Ferro porque “Tony Stark era uma personagem única e diferente de qualquer outra personagem que até à altura tinha sido trazida para o ecran“, sabemos que a verdade é um pouco diferente: em 2007, quando a Marvel fundou a sua própria produtora de cinema, não tinha os direitos das propriedades intelectuais dos super-heróis mais populares da altura (como o Homem-Aranha e os X-Men), de modo que escolheu o Homem de Ferro simplesmente porque naquela altura o empresário arrogante Tony Stark/Homem de Ferro parecia ser o super-herói mais moderno, verosímil e barato de produzir.
O resto é história. Contrariando todos os vaticínios, o filme Homem de Ferro foi um sucesso comercial e daria início aquele que é um dos franchises de maior sucesso do mundo cinematográfico da actualidade. O filme foi rodado sem um guião fixo (o realizador Favreau concebeu o filme “como se fosse Robert Altman a realizar um filme de super-heróis”) o que, permitiu a RDJ no papel do engenheiro, narcisista bilionário Stark improvisar muitas das suas falas e disparar as mesmas com a elegância e energia caótica de um músico de jazz. Downey Jr. agarrou o papel de Tony Stark com unhas e dentes com o seu charme e sarcasmo, personificando o carisma conflituoso de Stark deu também ao papel nuances de profundidade dramática e uma introspecção e um pathos que não se viam habitualmente num super-herói. Sempre na medida certa, a sua actuação acaba crescendo no decorrer do filme e demonstra, de maneira exímia, o brilho inerente à sua personagem. ( A máscara de ferro não conseguiu conter a personalidade de RDJ).

(Robert Downey Jr. in ‘Homem de Ferro’, 2008)
A audiência viu isso tudo e intuiu o resto: RDJ era Tony Stark e Tony Stark era RDJ (não se sabendo muito bem onde começa um e acaba o outro) e amou o Homem de Ferro talvez porque ao contrário dos super-heróis tradicionais ele era realista, relacionável, mas muito imperfeito e estava carregado de contradições (tal como o próprio Robert Downey Jr.)
Na antítese do Capitão América (ou do Super-Homem), o Homem de Ferro não era perfeito, nem heróico, nem tão pouco reflectia os valores mais elevados da sociedade americana.
Tony Stark (tal como RDJ) era sim o anti-herói perfeito – isto é, um protagonista que tinha aspectos da moralidade que tradicionalmente associamos aos antagonistas. Tão falho ou mais falho que um vilão, apesar de ser retratado com simpatia, ampliava as fragilidades da humanidade e tocava os espectadores com as suas fraquezas.
RDJ tal como Tony Stark cresceu sobre a luz dos holofotes, os seus erros e as suas falhas eram sempre publicas e largamente publicitadas e microscopicamente escrutinados pela imprensa e público. Ambos usavam uma Persona pública de arrogância, egoísmo, e auto-confiança excessiva como uma capa/ fachada para esconder as suas muitas inseguranças. Mas nenhum outro paralelismo biográfico entre personagem e actor é tão arrepiante como o da herança parental da masculinidade tóxica de ambos: nos livros de banda desenhada é Howard Stark o pai de Tony quem lhe oferece a primeira bebida da sua vida (e lhe transmite o “legado” do alcoolismo, a maldição dos Stark), na vida real foi o pai de Robert Downey Jr. quem o iniciou no consumo de drogas (a longa batalha da vida do actor) quando este tinha apenas 6 anos. “Quando eu e o meu pai nos drogávamos juntos, era como se ele tentasse expressar seu amor da única forma que sabia”, confessou o actor no livro The New Breed: Actors Coming of Age.
É essa herança da masculinidade tóxica de Tony Stark (a ideia cultural profundamente enraizada de uma masculinidade onde a força é tudo e as emoções são consideradas uma fraqueza) que tornam Tony Stark na personificação do que seria a ideia ocidental do que é um ” verdadeiro homem” um homem que é uma criança, narcisista, mimada, indulgente e privilegiada que está profundamente convencido que o mundo gira à sua volta. Até ao dia em que descobre que não gira. A verdadeira medida do carácter de um homem, descobre Tony Stark é tomar responsabilidade pelos seus actos.
Se quisermos intelectualizar o universo cinematográfico da Marvel ( e eu pessoalmente não quero outra coisa) podemos dizer que os Americanos gostam de se rever na imagem idealizada do Capitão América (um miúdo introvertido de Brooklyn que se torna grande para lutar e morrer por ideais de Verdade, Justiça e Liberdade), mas na realidade a América está muito melhor reflectida no arrogante bilionário, génio brilhante Tony Stark, com os seus imensos defeitos de carácter e passado obscuro como vendedor de armas, o produto de uma educação masculina tóxica (carregado de inseguranças e medo, obcecado com o domínio e a conquista).
O Capitão América é sempre idealmente virtuoso, justo e recto. Tem excelência moral de carácter e está comprometido com os mais altos princípios éticos. Por outro lado, Tony Stark, mesmo depois de se tornar num super-herói, ainda continua a ser um herói incompreendido, extremamente imperfeito, emocionalmente perturbado, cheio de dúvidas e conflitos interiores, a lutar contra a Ansiedade, ataques de pânico e stress pós-traumático, e ainda assim com toda esta bagagem emocional continua a ser sempre irritantemente persistente, altamente motivado e surpreendemente altruísta (ao ponto de dar a sua vida pelos outros sem hesitar).
Tudo isto faz dele um dos mais complexos e interessantes super-heróis da Marvel- e para mim, que não gosto nada de heróis ou super-heróis perfeitos foi um prazer absolutamente viciante e educativo ver o melhor e o pior da (minha ideia da) América reflectidos nele e como num espelho.
11 anos, 22 filmes e muitos billiões de dólares mais tarde, já pouco resta da ingenuidade, simplicidade e improviso do primeiro filme da Marvel. O Universo Cinematográfico da Marvel transformou-se numa perfeita afinada e super-potente máquina de Marketing, e Publicidade (e por muito que custe admitir a alguns bom cinema), mais perfeita que o Reactor Nuclear Compacto que esteve no peito de Tony Stark. Tem a sua Mitologia própria, a sua história e carrega o seu passado com orgulho. E o Homem de Ferro, o seu coração teve o arco narrativo perfeito e o desenvolvimento de personagem mais bem estruturado e bem construído que alguma vez foi dado a um super herói.
O carisma inefável de Downey Jr. que muitos reivindicam mas muito poucos têm, o seu “good look” americano (de ascendência irlandesa-russa e alemã- escocesa), e um mais que reconhecido talento de actor com “A” maiúsculo, conjugam-se para que ele seja uma das últimas grandes figuras de Hollywood das quais se pode dizer, como antes dele se disse de um Paul Newman ou de um Errol Flynn que têm uma espécie de universalidade, e grandeza maior que as personagens que interpretam e mesmo quando os filmes não são bons (e Homem de Ferro II e III ficam aquém) são magnéticos e tocantes e como só os grandes actores/estrelas conseguem ser.
No entanto, apesar do sucesso mundial, da superação dos vícios e dos muitos milhões na conta bancária havia uma vozinha na minha cabeça que teimava em considerar que o Homem de Ferro (e um punhado de outros grandes papéis, entre os meus preferidos os dos filmes: Chaplin; Zodiac; Tropic Thunder; Natural Born killers; Kiss kiss bang bang; The soloist; O detective cantor;) não chegavam para montra do talento de RDJ. Queria te-lo visto ainda em mais papéis poderosos e emblemáticos e especialmente a contrapelo da sua imagem, mas essa voz calou-se quando viu a sua cena final em Vingadores: Endgame.
Certamente não é Shakespeare,Tennessee Williams ou Beckett.
Mas é um actor completo num controle total da sua arte, num grande momento de interpretação, numa despedida peculiarmente filosófica e melancólica .
Naquela que é a sua cena final deste “mero” filme de super-heróis Downey Jr. torna-se maior que a sua personagem e absorve-a ao chamá-la a si e transforma o seu papel nos filmes da Marvel numa grande aula de representação. E nós só nos apercebemos que ele a deu quando a ficha técnica está a passar no final do filme e à espera da cena pós-crédito ouvimos o som de um metal a bater em metal, numa homenagem a Tony Stark quando este sequestrado por terroristas e prisioneiro numa caverna no Afeganistão, forjou a primeira armadura do Homem de Ferro.

(Novo filme ‘Spiderman- Far from home’: O mundo chora a morte do Homem de Ferro).
Se quiser (e estiver para isso) Robert Downey Jr. ainda tem muito para dar ao Cinema, mas mesmo que não faça mais nada, se for “só” este o seu legado, que tremendo legado.





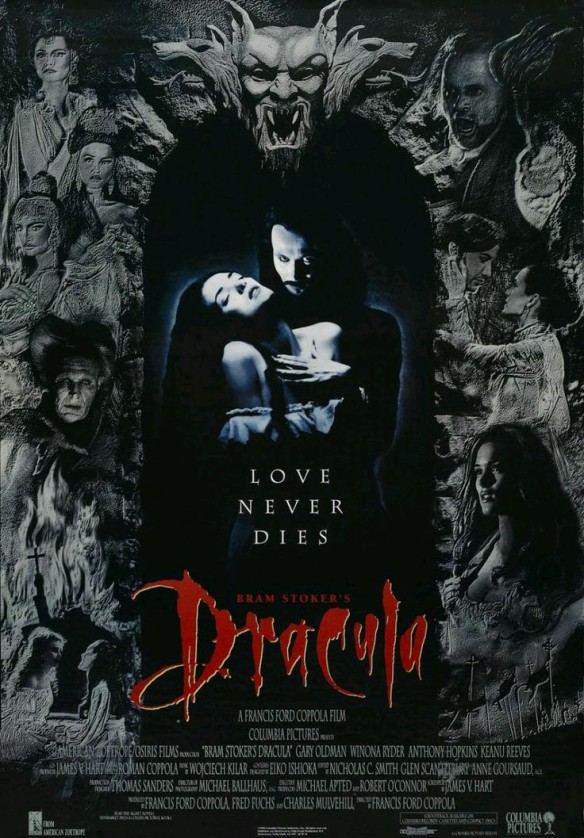







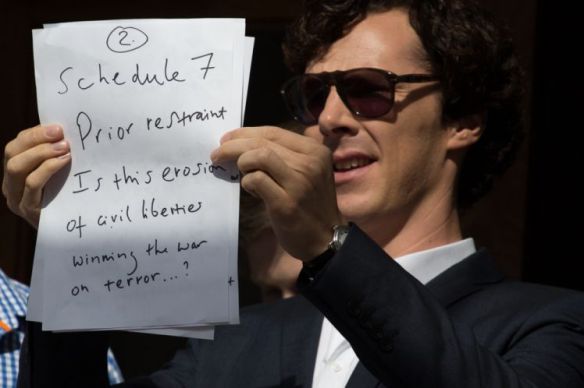





 o partido. Entre 2001 e 2005 deram 546 concertos, estiveram em tour nos Estados Unidos com os gigantes
o partido. Entre 2001 e 2005 deram 546 concertos, estiveram em tour nos Estados Unidos com os gigantes 


